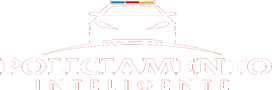“A instituição da qual fazemos parte é assassina”, afirma o investigador Denilson Neves. Conheça ele e outros policiais que encampam a luta pelos direitos humanos dentro das corporações
Na contramão do pensamento hegemônico das polícias, que legitima práticas criminosas, policiais que são ativistas em direitos humanos lutam, de dentro das corporações, por uma reestruturação do modelo de segurança pública vigente. Espalhados pelo país, alguns deles contam à Ponte Jornalismo como buscam espaços para defender suas posições.
Conhecido por sua militância em defesa dos direitos humanos e pelo fim da guerra às drogas, o delegado da Polícia Civil do Rio de Janeiro Orlando Zaccone, 51 anos, ressalta que a polícia tem um viés autoritário no Brasil, onde ser policial significa se afastar dos interesses populares e se atrelar aos interesses dos governos. “Alguns policiais que, politicamente, se posicionam contra formas autoritárias e modelos fascistas de governo, muitas vezes vistos como ‘menos policiais’, acabam buscando espaços dentro das instituições para andar na contramão, e formas de operar que levem a polícia a um patamar mais democrático”, analisa.
É o caso do tenente Anderson Duarte, 32 anos, da Polícia Militar do Ceará, que paga um preço alto por ser o único oficial cearense em atividade a se colocar publicamente a favor da desmilitarização das polícias. “Quando você assume posições na contramão do sistema, está implicando a sua carreira e a sua própria vida. É uma decisão muito séria”, afirma.
Nascido em família pobre, como a maioria de seus colegas, Anderson ingressou na PM por necessidade, há dez anos, quando cursava Geografia na UECE (Universidade Estadual do Ceará) e seguiu estudando, o que logo se mostrou um obstáculo: quando o policial iniciou o mestrado em Educação na UFC (Universidade Federal do Ceará), ouviu de um comandante que “policial não é pra ficar estudando, não” e foi transferido do setor administrativo para a rua.
Anderson ignorou o conselho do comandante e continuou a estudar. Concluiu o mestrado com a dissertação Policiamento Comunitário e Educação: Discursos de Produção de uma “Nova Polícia”e hoje é professor da disciplina de Ética e Cidadania no Curso de Formação de Oficiais da Academia Estadual de Segurança Pública, além de tutor dos cursos de educação à distância da SENASP (Secretaria Nacional de Segurança Pública), órgão do Ministério da Justiça.
Silenciamento e boicotes
Em outubro, tendo sido um dos cinco servidores de instituições brasileiras de Segurança Pública selecionados pela SENASP para trabalhar na elaboração do Pacto Nacional pela Redução de Homicídios, Anderson foi impedido, pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará, de assumir o cargo, em Brasília (DF), na comissão que determinará as diretrizes das ações políticas públicas voltadas à redução de homicídios dolosos no país.
Em 2012, após uma série de postagens críticas em seu perfil no Facebook, o oficial foi transferido de Fortaleza para a cidade de Crateús (a 370 quilômetros da capital), por 20 dias, sem ter sido consultado previamente e sem direito à licença de 10 dias para deslocamento. Ainda que de forma velada, situações como esta impedem que o policial tenha direito à liberdade de expressão – garantido pela Constituição Federal de 1988 a todo cidadão brasileiro.
“Sempre acreditei que somente um trabalhador da segurança pública pleno de seus direitos de cidadania poderá reconhecer e garantir direitos dos demais cidadãos. Por isso, reivindiquei muitas vezes o direito de liberdade de expressão dos policiais nas redes sociais”, diz o tenente, aludindo à sua luta para que se torne lei a portaria interministerial da Secretaria de Estado de Direitos Humanos do Ministério da Justiça que estabelece as Diretrizes Nacionais de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos dos Profissionais de Segurança Pública. “O respeito a esse direito é fundamental para que haja mais democracia interna nas instituições de segurança e, consequentemente, na sociedade”, completa.
Em fevereiro deste ano, o escrivão da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, Leonel Guterres Radde, 34 anos, também viu cerceado seu direito à liberdade de expressão. Por postar, em seu perfil no Facebook, críticas ao governo do Estado, foi submetido a uma sindicância. Ao manifestar-se, na mesma rede social, dizendo-se vítima de uma injustiça, foi aberta contra ele uma nova sindicância. A segunda foi arquivada, mas a primeira sindicância resultou em 43 dias de punição para o escrivão, depois reduzida para 11 dias de multa. “Continuo achando que é um equívoco. Imagina se as pessoas não puderem emitir opiniões e críticas pessoais sem praticar crimes contra a honra de terceiros”, questiona Leonel.
Construção de pontes
Vendo-se censurado, Anderson decidiu criar um espaço na internet para se expressar livremente. “Um policial de esquerda, um policial pensador, não é aceito nem no meio policial nem no meio da esquerda tradicional. Você é um estranho em todos os ninhos. Então, se ninguém me aceita em lugar nenhum, vou criar um lugar onde eu possa manifestar minhas ideias e também receber ideias de outros policiais”, conta. Foi assim que o tenente criou, há um ano e meio, o blog Policial Pensador.
A opção pela construção de um espaço na internet também foi adotada em 2007 pelo tenente da PM da Bahia Danillo Ferreira, de Feira de Santana (BA), que criou, com mais quatro colegas, oAbordagem Policial. “O blog surgiu a partir da necessidade que, à época, sentimos eu e alguns colegas na Academia de estender os debates que tínhamos no quartel para outros atores e instituições”, conta Danillo. Para ele, “qualquer mudança pretendida nas organizações policiais só ocorrerá com o apoio dos próprios policiais”. Tendo ingressado na polícia em 2006, atualmente Danillo trabalha com mídias sociais na PM, colaborando com a administração dos perfis institucionais.
Em Salvador (BA), a ausência de um espaço no qual policiais civis na contracorrente pudessem defender suas posições políticas motivou, em 2010, a criação do Coletivo Sankofa, organização sindical que debate questões ligadas ao poder das instituições representativas. “Não temos uma postura corporativista, de defender a imagem do policial a qualquer custo, mas de defesa e valorização da polícia. O princípio da polícia não pode ser manter a ordem, mas garantir direitos”, afirma o investigador Kleber Rosa, 41 anos, dirigente do coletivo, que também é professor de Sociologia e militante do movimento negro. Ele ingressou na Polícia Civil quando ainda cursava Ciências Sociais na Universidade Federal da Bahia (UFBA), há quase 16 anos.
Outro dirigente do coletivo, o investigador Denilson Neves, 46 anos, acredita que assumir uma postura crítica com relação à instituição policial é condição básica para se abrir o diálogo com outras categorias de trabalhadores e movimentos sociais. “A instituição da qual fazemos parte é assassina, aterradora, corrupta, truculenta. A gente precisa cortar na própria carne, assumir que a polícia é isso e fazer a autocrítica em nome do Estado e da própria categoria. Este é o primeiro passo para acolher aquele que te vê, de certa forma, com estigma”, defende.
O desafio, segundo Denilson, é vencer a visão “provinciana e corporativista” dos policiais, para quem os problemas “devem ser resolvidos no círculo interno da polícia”, e fazê-los perceber que são trabalhadores como qualquer outro. “Policiais têm assédio moral, problema salarial, de saúde, doença ocupacional, mas não constroem um espaço de libertação onde possam discutir tudo isso com profundidade”, analisa o sindicalista, que ingressou na Polícia Civil há 18 anos e cursa Filosofia na Universidade Federal da Bahia. Para isso, Denilson defende que os policiais devem se despir do preconceito e se articular com outras esferas, como os movimentos LGBT, negro e estudantil. “É um enfrentamento difícil, mas é a única saída possível”, diz.
Desmilitarizar para humanizar
Expostos a um estatuto diferenciado do restante da população, policiais militares são submetidos a um poder punitivo muito mais amplo. A desmilitarização da polícia, para Anderson Duarte, é o primeiro passo para “transformar policiais em cidadãos”, reconhecendo direitos trabalhistas que hoje não possuem, como o direito à greve. “Assim, o policial vai começar a se reconhecer como cidadão e, talvez assim, reconhecer um cidadão. Porque é muito difícil, para quem não tem direitos, reconhecer direitos”, destaca o tenente da PM cearense.

“A instituição da qual fazemos parte é assassina”, diz o investigador Denilson Neves. Foto: Arquivo Pessoal
A própria condição de militar, segundo ele, impõe uma distância irredutível entre o policial e a sociedade civil. “A Polícia Militar não tem identificação nenhuma com o povo. O militar lida sempre com inimigos, e o inimigo é externo, ou seja, é diferente dele. O cidadão comum é o civil, não é um igual”, define o PM. Ele ressalta que a visão militarizada está presente em toda a política de segurança pública, mesmo quando executada por policiais civis. “No Rio de Janeiro, por exemplo, a CORE [Coordenadoria de Recursos Especiais], que faz parte da Polícia Civil, utiliza os mesmos métodos do BOPE [Batalhão de Operações Policiais Especiais], que é da PM. Há favelas que só a CORE sobe, com os mesmos métodos, e é civil”, exemplifica.
Anderson critica ainda a forma desigual com que a polícia se relaciona com as camadas mais baixas da sociedade, transformando moradores de favelas em inimigos a serem combatidos. “Quando se concentra recursos bélicos em comunidades e se faz policiamento com fuzis e tanques de guerra nas favelas, como foram as ocupações policiais para a implementação das UPPs [Unidades de Polícia Pacificadora, no Rio de Janeiro], está se construindo o inimigo. Por que não ocupam Copacabana, Leblon ou Jardim Botânico com tanques e fuzis?”, questiona. “Há sempre uma trincheira, mesmo que não seja visível, que separa o militar das demais pessoas. Essa trincheira está na própria constituição do militar. Nós somos ensinados a isso”, explica o tenente. Por isso, ele defende que a condição para que se “possa ter o policial como um trabalhador é, primordialmente, desmilitarizá-lo”.
A maioria dos oficiais da PM opõe-se à desmilitarização das polícias, por “uma questão claramente de poder”, e não por se preocupar com a segurança, afirma ele. “Embora nem todo policial seja um tirano, o sistema militar permite a tirania. A tirania se dissemina do coronel ao soldado e vai desaguar no cidadão”, completa.
Apesar da resistência entre oficiais, o projeto de desmilitarização encontra grande aceitação entre os praças (soldados, cabos, sargentos e subtenentes). Pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas em São Paulo e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em parceria com a SENASP, para saber a Opinião dos Policiais Brasileiros sobre Reformas e Modernização da Segurança Pública, divulgada em 2014, revelou que 73,7% defendem a desvinculação entre polícia e Exército.
Para falar sobre militarismo, o ex-delegado geral da Polícia Civil de São Paulo Marcos Carneiro, 58 anos, remonta ao período da ditadura militar que, em 1969, incorporou a Guarda Civil de São Paulo à Força Pública, uma polícia aquartelada, criando a atual Polícia Militar do Estado de São Paulo. “Tirou-se das ruas um policial que tinha um quepe, um uniforme, um distintivo e uma arma dentro de um coldre fechado, substituindo-o por esse modelo de um cara com capacete, farda, coturno e uma submetralhadora. Para garantir o cidadão? Para combater o crime? Conta outra!”, critica Marcos, hoje aposentado.
A formação militarista, segundo ele, “doutrina jovens” a acreditarem que vivem numa guerra. “Aquele jovem, com 20 anos de idade, vai para as ruas pensando que tem que ser um anjo salvador, o justiceiro que vai fazer uma guerra contra o crime. E quem é o inimigo? É associado à pobreza. O policial vê um sujeito de bermuda, camiseta e chinelo: ‘para esse cara’”, afirma o ex-delegado, que já determinou a prisão de mais de uma dezena de PMs durante sua carreira, por homicídios, sequestros e extorsão. “Eu já ouvi, depois de prender PMs, que ele só ‘mata bandido’. Mas é exatamente por isto. Ele não pode matar bandido, não pode matar ninguém”, completa.

Para delegado Orlando Zaccone, barbárie é culpa do Estado, mais do que da polícia / Foto: reprodução vídeo Crimes e Castigos
Para o delegado Orlando Zaccone, o debate sobre a violência policial precisa transcender a noção de que a única culpada pela barbárie é a própria polícia, colocando o Estado, responsável pela militarização, numa posição cômoda. “Os policiais operam uma máquina que é construída e gestada pelo poder político. Responsabilizá-los, sozinhos, é uma forma de o Estado, que é quem determina esse modelo, se proteger de sua própria responsabilidade. A violência policial no Brasil é tratada meramente como um desvio de função dos policiais, nunca como uma política de Estado chamando seus gestores à responsabilidade. Se o policial mata uma pessoa que é construída como traficante, todo mundo aplaude; mas se não se consegue transformar o pedreiro ou o dançarino em traficante, o policial é preso e o Estado se coloca protegido dentro dessa política que ele mesmo cria”, critica o delegado.
Ciclo completo
O chamado ciclo completo de polícia – que determina, principalmente, que a mesma instituição que faz o policiamento será responsável pela investigação – é o modelo adotado pela maior parte dos países ocidentais, mas enfrenta resistências para ser adotado no Brasil, onde a polícia sempre se dividiu entre a ostensiva (militar) e a judiciária (civil).
Para o escrivão da Polícia Civil do Rio Grande do Sul Leonel Guterrez Radde, o modelo ideal seria uma polícia desmilitarizada de ciclo completo, “que começa na rua e termina no indiciamento do acusado, faz todo o processo de investigação” e em que “todos os policiais passariam por todas as áreas e teriam uma carreira única”.
Mais uma vez, a desmilitarização está no cerne da questão. “Não dá pra discutir ciclo completo desvinculado da desmilitarização. A gente vai entregar a investigação para uma instituição que não teve a oportunidade de se pensar? Sem desmilitarizar a PM, não há como entregar a ela a investigação”, afirma o policial rodoviário federal de Goiás Fabricio Rosa, 36 anos, professor de direitos humanos em cursos de formação policiais.
Ele cita um exemplo de como a divisão entre diferentes polícias atrapalha a segurança pública no Brasil. “Tem muito roubo de carga em determinado local da rodovia, só que a PRF não pode investigar a quadrilha que fez aquilo, tem que mandar para uma outra instituição estadual, que já está abarrotada com outros tipos de crimes. Então o crime não é devidamente apurado e fica por isso mesmo”, exemplifica.
Antes de ingressar na Polícia Rodoviária, Fabricio foi, por mais de cinco anos, oficial da PM, na qual ingressou aos 19 anos. “Quando saí da PM, descobri um outro universo possível”, diz ele. Militante de direitos humanos desde muito novo, só viu a possibilidade de encampar seu ativismo quando deixou a polícia militarizada. Na PRF de Goiás, cuja Comissão de Direitos Humanos preside, envolveu-se em projetos de combate ao trabalho escravo e ao trabalho infantil.
Um deles é o mapeamento dos pontos vulneráveis da exploração sexual de crianças e adolescentes que a PRF de Goiás realiza há 12 anos e serve de base tanto para operações repressivas como para ações preventivas da polícia, como palestras em postos de gasolina, panfletos e cartazes informativos. Uma “experiência única no Brasil e talvez no mundo”, da qual Fabrício, que já coordenou o projeto, se orgulha.

Inspetora Marina Lavatto usa jiu-jitsu para aproximar a polícia da comunidade no Rio. Foto: Arquivo Pessoal
Outro projeto social diferente foi implantado pela inspetora Marina Lattavo, da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio, que convidou os colegas a dar aulas de jiu-jitsu para moradores de comunidades de uma das regiões onde se registravam os mais altos índices de homicídios do Estado. Segundo a inspetora, o projeto “Jiu-jitsu – Em Defesa de Quem Precisar”, do qual participam hoje 50 famílias, vem ajudando a mudar o modo como moradores de comunidades e policiais enxergavam uns aos outros. “Muitas vezes, com a formação e a visão de sociedade que o policial tem, tende a pensar que a criança pobre da favela vai crescer, virar traficante e ser morta. Mas agora ele começou a enxergar aquela criança como uma criança”, afirma. A visão da criança sobre o policial, segundo Marina, também mudou. “É importante fazer com que aquelas crianças enxerguem o policial como alguém que está ali para protegê-la, não como um inimigo que vai lá matar o pai dela”.
Guerra às drogas
Dentre todos os temas que aborda em suas aulas de direitos humanos para policiais, Fabrício afirma que o mais difícil é a questão da guerra às drogas. Na única vez em que foi hostilizado como professor, Fabrício debatia a questão quando um professor da disciplina “combate ao narcotráfico” entrou na sua sala de aula. “Ele me xingou, dizendo que eu estava sendo antiprofissional e descumprindo os valores da instituição, porque o combate às drogas é um dos valores da instituição”, recorda. “As polícias se alimentam disso simbolicamente, porque isso dá ao policial o status de guerreiro, e financeiramente, porque os governos federal e estadual dão verbas para as polícias em programas como ‘Crack – é possível vencer’, o PROERD [Programa Educacional de Resistência às Drogas] das PMs e outros, que não dão em nada”, diz o policial, que estuda a guerra às drogas em seu mestrado em Direitos Humanos.
Os “agentes da lei contra a proibição”, reunidos na LEAP (Law Enforcement Against Prohibition), vêm mostrando, há longa data, por meio de seminários no Rio e palestras em diversas regiões do país, que não há saída para se transformar as polícias e sua relação com a sociedade senão legalizar a produção, o comércio e o consumo de todas as substâncias – já que a guerra às drogas não apenas não é capaz de reduzir seu consumo como promove uma verdadeira matança que atinge, sobretudo, moradores de favelas e os próprios policiais. Muitos dos policiais entrevistados para esta matéria são membros da organização, por acreditarem que somente com o fim da guerra é possível desmilitarizar os soldados que são lançados nela.
“Temos que convocar esses policiais que estão lutando na contramão para o debate, e quem sabe formar uma associação, uma liga de policiais pela democracia, contra o fascismo, porque o fascismo está crescendo e pondo suas asas dentro das instituições policiais. Por isso é um momento importante para ampliarmos essa discussão”, encerra o delegado Zaccone.
Fonte: Blog Ponte