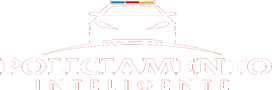“Os passos das mulheres negras vêm de muito longe. Para me tornar o que sou hoje, precisei da minha mãe, das minhas avós e de mulheres intelectuais negras. Agora, meu objetivo é ampliar isso para a vida de outras pessoas.” A luta contra o racismo e o preconceito existe na vida da professora de francês Thânisia Cruz, 27 anos, desde a infância. Nascida em Ceilândia, filha de mineiros e integrante de uma família predominantemente negra, ela considera o lar “um verdadeiro quilombo afetivo”. Foi nesse meio que aprendeu a importância da educação e a paixão por educar. Hoje, com toda base familiar e profissional, espalha mensagens de conscientização por onde passa.
CEILÂNDIA/ Professora nascida em Ceilândia representou o país em evento internacional
Nascida em Ceilândia, a professora de francês Thânisia Cruz enfrentou a crueldade do racismo ainda na adolescência. Em meio às lutas, envolveu-se em projetos sociais e representou o Brasil em evento internacional sobre direitos humanos
Formada em letras-francês pela Universidade de Brasília (UnB), foi uma das poucas negras que conseguiram concluir o curso e seguir carreira. Para ela, na capital ainda tem poucos professores de língua francesa, em especial negros. Ela leciona o idioma no Centro Interescolar de Línguas (CIL) da Asa Sul e compartilha a rotina e as dificuldades com seis amigas, também negras e formadas no mesmo curso.
Os pais de Thânisia chegaram a Brasília ainda no início da construção da nova capital. O pai veio com o avô trabalhar como comerciante. A mãe, para morar com uma das irmãs, que já estava por aqui havia um tempo. Ela se lembra de uma infância tranquila com os quatro irmãos pelas ruas de Ceilândia. “A cidade nos abraçou. Tenho ótimas lembranças daquele tempo.” Quando pequena, uma das tias abriu o primeiro empreendimento da família, uma escola de ensino infantil. “Na época, muita gente foi contra. Pediram para ela fechar, diziam que era um sonho que não daria certo”, recorda.
Determinada, a tia manteve a instituição. “Foi o primeiro negócio educacional preto. Lá, fui blindada do racismo. Eu me sentia bem, porque era uma escola para filhos da comunidade. Sou fruto de um projeto social criado dentro daquela escola. A gente tinha as aulas regulares e, no turno contrário, tinha xadrez, capoeira, hortas, brincadeiras. E eu entrei na UnB como resultado desses projetos”, ressalta.
Na adolescência, foi matriculada em uma escola da Asa Sul e passou a enfrentar o racismo. Thânisia lembra que, certa vez, ela e outra colega foram escolhidas por um professor de exatas para serem usadas como exemplo durante uma aula. A dupla foi surpreendida por um episódio doloroso. “Ele chamou as duas únicas negras da turma e disse que não tínhamos conhecimento suficiente para estar ali”, relembra.
À época, os pais já eram servidores públicos — a mãe, professora; o pai, merendeiro. A filha pediu para ser transferida para outro colégio. Passou por um em Samambaia antes de chegar ao Centro de Ensino Médio Ave Branca (Cemab), em Taguatinga. Ali, entendeu que poderia entrar na UnB. “Naquela escola, vi que as pessoas eram iguais a mim e às pessoas da minha rua. O jeito de se vestir era o mesmo. A música era a mesma que eu ouvia com meus irmãos. O rap era presente ali. É um estilo que sempre fez parte da minha vida”, conta.
No terceiro ano do ensino médio, entendeu sobre políticas de cotas e prestou vestibular. No mesmo ano, iniciou o curso de francês no CIL, e uma professora a orientou a cursar letras-francês. “É uma profissão que sempre tem emprego, mas ainda são poucos professores nessa área. Eu não deveria ser a única professora preta por onde vou, mas infelizmente ainda é assim”, relata Thânisia.
Parte de uma família de educadores, a professora aprendeu desde o berço o valor dos estudos e do trabalho. No estado de origem, Minas Gerais, os pais não tiveram tantas oportunidades. Aos cinco filhos, proporcionaram o que estava ao alcance. Por parte do pai, a influência musical também fez parte de seu desenvolvimento.
Thânisia fez bacharelado, licenciatura e, hoje, é mestranda na UnB. A constante procura por instrução resultou no envolvimento em projetos sociais. Para ela, essa necessidade surgiu da busca de autoconhecimento. Desde que conheceu a Lei nº 10.639/2003, ficou inquieta com a escassez de autores negros estudados nas escolas e universidade. O trabalho voltado para consciência negra começou com um projeto de iniciação científica sobre violência de gênero e outro sobre os direitos das mulheres.
Começou a participar do Programa Afroatitude, que consiste em atividades destinadas a negros ingressantes na universidade, como forma de acolhê-los e fortalecer sua identidade ética e cultural. Também foi convidada a trabalhar na Secretaria de Igualdade Racial do DF e participou de debates de outros movimentos, como da Articulação Nacional de Negras Jovens Feministas (ANFJ), que promove noções de autonomia e empoderamento.
A partir desses trabalhos, novas portas foram se abrindo. No início deste ano, como colaboradora da Organização das Nações Unidas (ONU), esteve em Nova York, nos Estados Unidos, para um evento pela defesa dos direitos humanos. “Eu gostaria de não ser uma história única. A expectativa é de que pessoas como eu possam fazer e ser o que quiserem. É uma máxima que eu compartilho com meus alunos. Temos que ampliar nossas vozes, não só a partir das mazelas”, destaca a jovem.
Ensino obrigatório
A Lei nº 10.639/2003 estabelece a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afrobrasileiras dentro das disciplinas que fazem parte das grades curriculares dos ensinos fundamental e médio. Além disso, estabelece 20 de novembro como o Dia da Consciência Negra no calendário escolar.
A série Histórias de consciência presta homenagem a mulheres e homens negros que ajudam a construir uma Brasília justa, tolerante e plural. Todos os perfis deste especial e outras matérias sobre o tema podem ser lidos no site www.correiobraziliense.com.br/historiasdeconsciencia
Informações do Jornal Correio Braziliense