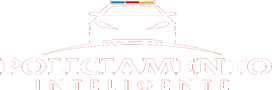25dias para os 60 anos de Brasília
Em homenagem à capital federal, formada por gente de todos os cantos, a Agência Brasília está publicando, diariamente, até 21 de abril, depoimentos de pessoas que declaram seu amor à cidade.

Não nasci aqui, mas sou brasiliense. Ao acompanhar Brasília se construir como cidade, fui me construindo como sou hoje.
Normalmente, as pessoas estão ligadas a uma cidade por meio dos ancestrais, das famílias, da sua história individual desde o nascimento. No caso de Brasília, principalmente para minha geração, é diferente. Nós nos ligamos à cidade em que vivemos por opção, por um vínculo simbólico genuíno, autêntico, voluntário. Em algum momento de nossas vidas escolhemos viver aqui e passamos a nos sentir mais de Brasília que de qualquer outro Estado. E essa escolha se renova todos os dias.
Esse vínculo com Brasília não foi imediato. Em 1965, quando cheguei aqui, naquele julho frio e empoeirado de um talco vermelho, meu coração dilacerado de saudades se recusava a encontrar aconchego na paisagem horizontal. Eu procurava, sem encontrar, as encostas de Minas, os horizontes de Minas, os mistérios das serras indevassáveis.
Sorvete na Pigalle, namorar na fonte sonora e luminosa em frente à Torre, pizza no Casebre ou no Roma, doces da confeitaria Flamingo, volta turística ao lago com parada obrigatória na Ermida – tão longe – tão perto, chá dançante nas tardes de domingo na Torre, Congressinho, Gilberto Salomão, festa dos Estados, cineminha no Bruni, Cultura ou Escola-Parque…
Mas aqui a linha do pôr-do-sol era desnuda, extravagante, aberta ao infinito. Como se a vida se oferecesse descarnada de obstáculos, como se o espectro de opções para o que viria estivesse inteiramente exposto, como se todos os caminhos estivessem disponíveis e se mostrassem sem subterfúgios.
Minha melancolia inicial e meu recolhimento foram pouco a pouco se iluminando com esse sol desinibido e franco. E fui aprendendo a amar o cerrado, a reconhecer suas cores, suas árvores, suas flores, seus pássaros, seus movimentos, suas cachoeiras escondidas. Deslumbrei-me com as surpresas da convivência com amigos vindos de lugares tão diversos, com sotaques tão exóticos para meus ouvidos caipiras, com interesses tão diferentes e múltiplos.
Na minha turma de segundo grau encontrei o Brasil e a vontade – que nunca mais me deixou e que me mobiliza ainda – de conhecer mesmo o meu País. O colégio de freiras era um catálogo de falares e de costumes que tornava a rotina escolar uma sequência saborosa de descobertas.
Sorvete na Pigalle, namorar na fonte sonora e luminosa em frente à Torre, pizza no Casebre ou no Roma, doces da confeitaria Flamingo, volta turística ao lago com parada obrigatória na Ermida – tão longe – tão perto, chá dançante nas tardes de domingo na Torre, Congressinho, Gilberto Salomão, festa dos Estados, cineminha no Bruni, Cultura ou Escola-Parque…
Depois a Universidade, próxima, acolhedora, convidativa, amigável e ao mesmo tempo catalisadora de tudo o que deveríamos aprender sobre a repressão e a truculência do arbítrio. O fim da inocência social e as experiências inaugurais da cidadania e da política. A consciência da ética. Os primeiros amores e os que viriam no futuro, as primeiras perdas – os amigos desaparecidos, os primeiros sucessos, os primeiros fracassos, as primeiras decepções, os livros fundamentais, os primeiros sonhos e esperanças compartilhados.
E o mitológico Beirute: testemunha-cúmplice de paixões arrasadoras, flertes, mortes e ressurreições do amor, casamentos e separações, finais e recomeços.
Não sei bem quando, nesses anos de juventude, eu fui me desligando de tudo o que ainda me prendia à infância remota e abraçando o novo, o desafio, a indagação sobre o futuro, o questionamento do mundo. Adotar Brasília como minha cidade misturou-se com definir os rumos da vida, fazer outras escolhas fundamentais. Tudo está enraizado naquelas manhãs ensolaradas nos gramados da UnB.
Leia também
toys
E então veio o trabalho, minha primeira sala de aula numa cidade-satélite. Os contrastes e as injustiças sociais, que se perpetuariam e se acentuariam nesta cidade-espelho do Brasil, já estavam colocados para mim, mal saía da adolescência.
As reflexões e as decisões assumidas no interminável trajeto diário da Asa Sul para o Gama, naquele ano emblemático de 1968, galvanizaram um destino inarredável de educadora, que nunca me abandonou. Mais que nunca “o passado e o futuro convergem a um ponto que é sempre presente”.
Todos os dias, na sala de aula, nas palestras, nas reuniões de trabalho, ou quando venho para o computador produzir meus textos, vem comigo aquela menina de dezessete anos que acordava de madrugada, deixando para trás a doce despreocupação burguesa, para ir, cheia de sonhos, esperanças, coragem e entusiasmo, encontrar seus alunos na escolinha de madeira encravada na terra vermelha, perto do hospital do Gama.
Lucília Helena do Carmo Garcez, 69 anos, doutora em Linguística e professora aposentada da UnB, mora no Lago Norte