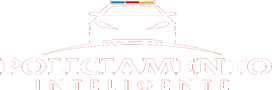Ciclo Completo
Laranjas cortadas não param em pé »
Por: Marcos Rolim
As recentes greves e mobilizações de policiais em vários Estados são um reflexo tardio de uma crise profunda que ultrapassa em muito as reivindicações salariais. Para se compreender a natureza dos fenômenos em curso, é preciso, primeiramente, observar que as duas polícias que atuam nos Estados (Civil e Militar) possuem suas origens respectivas em “campos” (no sentido de Bourdieu) determinados – que não representam especificamente os desafios da segurança pública: as Polícias Civis emergiram do campo do Direito, e as Polícias Militares, do campo da Defesa. Suas origens remontam à criação, em 1808, da Intendência Geral de Polícia da Corte e, um ano após, da Guarda Real da Polícia da Corte, por Dom João VI.
Essas estruturas, é oportuno lembrar, não surgiram para o enfrentamento das dinâmicas criminais ou para a garantia dos direitos da cidadania, mas – como ocorreu também na grande maioria dos Estados modernos – para atender à necessidade de contenção de distúrbios sociais antes enfrentados diretamente pelas Forças Armadas. Por conta desse pertencimento original, as instituições policiais foram “mimetizando” os campos da Defesa e da Justiça. Assim, durante muito tempo, as polícias estaduais atuaram como se exércitos fossem. A Força Pública de São Paulo contou com artilharia aérea e esteve envolvida em conflitos em vários Estados. Em 1905, essa polícia contratou a Missão Francesa, recebendo dela instrução militar, 12 anos antes do Exército. Em 1932, travou guerra contra o Exército, disputa que Getúlio Vargas só venceu por contar com o apoio da polícia mineira. Isso estimulou a Constituição de 1934 a declarar as forças públicas estaduais como “forças auxiliares e de reserva do Exército”, disposição que permanece até hoje.
De outra parte, as polícias civis transformam-se em “filtros” do Poder Judiciário, selecionando os fatos que mereceriam apreciação dos magistrados. De novo, a força mimética, com o inquérito policial operando como um “pré-processo” penal, em que se forma a culpa sem as garantias do contraditório e da ampla defesa – em desrespeito, portanto, à ordem igualitária que segue sendo declarada pela lei, mas violada pelo modelo. O inquérito policial, assinale-se, é outra característica do nosso modelo que se afasta da experiência internacional e que é, sabidamente, contraproducente.
Praças das PMs identificam no espelhamento de sua corporação com as Forças Armadas um dos problemas mais sérios da instituição. A maioria deles, inclusive, desejaria uma polícia desmilitarizada. Já a maioria dos oficiais preza o reflexo e atribui destacada importância às noções de disciplina e hierarquia típicas do Exército. De outra parte, os integrantes das carreiras iniciais das PCs não se identificam como “operadores do Direito”; o que demarca uma diferença plena de repercussões com a autoimagem dos delegados, bacharéis em Direito, que lutam pela equiparação funcional com as chamadas “carreiras jurídicas”.
Importa perceber, então, que – em contraste com as nações modernas – os esforços pela “policialização” das polícias (conforme a expressão de Karnikowski) e pela formação de um “campo da segurança pública” ainda não foram concluídos no Brasil. Como assinala Mateus Afonso Medeiros, “está incompleta a conquista democrática da separação institucional Polícia-Justiça e Polícia-Exército”.
O que há de mais notável no modelo de polícia construído no Brasil, entretanto, deriva da opção pela repartição do ciclo de policiamento. A instituição policial moderna em todo o mundo desempenha suas funções a partir do que se denomina “Ciclo Completo de Policiamento”; em outras palavras: as polícias modernas são instituições profissionais cujo mandato envolve as tarefas de 1) manutenção da paz pública, 2) garantia dos direitos elementares da cidadania, 3) prevenção do crime e 4) apuração das responsabilidades penais. Mas, no Brasil, se entendeu que uma das polícias – a Militar – seria encarregada da “prevenção”, pela presença ostensiva do patrulhamento fardado e outra – a Civil – seria encarregada da investigação criminal. Assim, a especialização entre patrulheiros e investigadores, em todo o mundo feita dentro das polícias, foi aqui dividida entre duas instituições com culturas e estruturas completamente distintas. O resultado é que nunca tivemos duas polícias nos Estados, mas duas “metades de polícia”, cada uma responsável por metade do ciclo de policiamento.
A bipartição do ciclo impede que os policiais encarregados da investigação tenham acesso às informações coletadas pelos patrulheiros. Sem profissionais no policiamento ostensivo, as Polícias Civis não podem contar com um competente sistema de coleta de informações. Não por outra razão, recorrem com tanta frequência aos “informantes” – quase sempre pessoas que mantêm ligações com o mundo do crime, condição que empresta à investigação limitações estruturais e, com frequência, dilemas éticos de difícil solução. As Polícias Militares, por seu turno, impedidas de apurar responsabilidades criminais, não conseguem atuar efetivamente na prevenção, vez que a ostensividade – ao contrário do que imagina o senso comum – não previne a ocorrência do crime, mas o desloca (potenciais infratores não costumam praticar delitos na presença de policiais; mas não mudam de ideia, mudam de local).
Patrulhamento e investigação são, na verdade, faces de um mesmo trabalho que deve integrar as fases do planejamento da ação policial, desde o diagnóstico das tendências criminais até a formulação de planos de ação, monitoramento e avaliação de resultados. No Brasil, isso se tornou inviável. Mas, como laranjas cortadas ao meio não permanecem em pé, as polícias intuem que precisam do ciclo completo (da outra metade). Por isso, historicamente, ambas procuram incorporar as “prerrogativas de função” que lhes faltam, o que tem estimulado a conhecida e disfuncional hostilidade entre elas, traduzida pela ausência de colaboração e, não raro, por iniciativas de boicote. Não satisfeito com a bipartição do ciclo, nosso modelo de polícia – também de forma inédita – ainda estabeleceu diferentes “portas de entrada” para cada polícia, o que gerou novo “corte” – agora horizontal – dentro das corporações: nas PMs temos duas partes, oficiais e não oficiais, e nas PCs, delegados e não delegados. Entre estas “partes” de polícia há um abismo de prestígio, poder, formação e remuneração que é, cada vez mais, insuportável. A ausência de carreira única em cada polícia, com efeito, inviabiliza a instituição policial brasileira, porque reafirma a desigualdade, estimula o autoritarismo e consagra privilégios; promovendo, muito compreensivelmente, uma “guerra” não declarada dentro das corporações. Também por isto, nossas polícias não conseguem completar seus efetivos e parcelas expressivas de policiais apenas aguardam oportunidade para deixar suas instituições. O problema da evasão, é claro, vincula-se também aos baixos salários. Esta realidade, por sua vez, agencia outras distorções, entre elas o “bico” e a formatação de jornadas absolutamente irracionais para a lógica do serviço público, mas funcionais para a prevalência do segundo emprego. Assim, por exemplo, jornadas de 24 por 72 horas (ou seja: plantões de 24h seguidos por três dias de folga) tornaram-se comuns nas polícias civis no Brasil, oferecendo exemplo de como se impedir que uma instituição funcione minimamente.
Policiais com um segundo emprego, entretanto, assumem vários riscos. Um estudo de Maria Cecília de Souza Minayo e Edinilsa Ramos Souza revelou que, dos 4.518 policiais mortos e feridos por todas as causas, de 2000 a 2004, no Estado do RJ, 56,1% foram vitimados durante as folgas. O “bico”, entretanto, é só a ponta de um iceberg de distorções que tendem a se avolumar e cujo desfecho aponta para a formação das milícias – de longe o mais sério problema de segurança pública em alguns Estados, com destaque para o Rio.
Mas a violência sofrida pelos policiais não lhes ameaça apenas desde o “exterior”. O amplo estudo que realizamos com Silvia Ramos e Luiz Eduardo Soares (disponível em http://bit.ly/x4PWnf) chamou atenção para o fato de que parte expressiva da violência sofrida pelos profissionais da segurança pública ocorre no interior das suas corporações. Assim, por exemplo, 20% dos policiais brasileiros são vítimas de tortura em seus processos de “formação”; 53,9% deles já foram humilhados pelos superiores hierárquicos e mais de um quarto dos policiais entende que sua corporação já lhes negou ou cerceou o direito de defesa. Além disso, 61,1% deles afirmaram já terem sofrido tratamentos discriminatórios pelo fato de serem policiais civis ou militares, bombeiros, guardas municipais ou agentes penitenciários e pelo menos 16% das mulheres que atuam nestas instituições já foram vítimas de assédio sexual em suas corporações.
Desrespeitados como cidadãos, obrigados a um cotidiano embrutecedor e sem qualquer apoio psicossocial, desvalorizados profissionalmente, desestimulados ao estudo e à reflexão e, não raro, “adestrados” pelo autoritarismo, estes policiais irão para as ruas nas piores condições, tendendo a reproduzir a mesma desconsideração em suas relações com o público, destacadamente quando tratarem com pobres e marginalizados. O círculo de estupidez e ineficiência, então, se completa com os resultados conhecidos.
No passado, alguns dos críticos do modelo levantaram a bandeira da unificação das polícias. Uma sugestão plena de boas intenções, mas completamente equivocada. Múltiplas estruturas de policiamento conformam uma das características mais importantes dos modelos contemporâneos de segurança pública na grande maioria dos países democráticos. Inglaterra e País de Gales possuem 43 forças policiais autônomas; a Noruega possui 54 polícias distritais; a Escócia, oito polícias regionais; os Estados Unidos possuem pelo menos 25 mil polícias autônomas; a Bélgica, 2.359; o Canadá tem 450 polícias municipais, além de várias forças provinciais e da Royal Canadian Mounted Police. Poucas nações possuem polícia única (Sri Lanka, Cingapura, Polônia, Irlanda e Israel). Polícias menores são mais facilmente administradas e avaliadas. São também mais ágeis e tendem à especialização. Instituições policiais enormes, pelo contrário, são de difícil manejo e supervisão. Também por isso, eventual unificação das polícias no Brasil tenderia a somar os defeitos das instituições que temos, subtraindo suas virtudes. Por fim, a unificação agregaria risco considerável à democracia, incluindo a possibilidade de “emparedamento” do Estado por demandas corporativas.
O caminho da reforma, pelo contrário, deve estimular o surgimento de novas instituições policiais, além de integral autonomia aos Bombeiros e às perícias; tendência que – apesar dos limites constitucionais – já se impõe no Brasil, que formou uma Guarda Nacional e cujos municípios têm constituído Agências de Fiscalização de Trânsito e Guardas Municipais (que, embora sem este nome, polícias são). O fundamental é que todas elas tenham o ciclo completo de policiamento (o que no Brasil só a Polícia Federal possui) e carreiras únicas (uma única porta de entrada em cada polícia) como no resto do mundo. Esta é a base para que possamos ter polícias eficazes e para que as noções de segurança sejam fundadas em evidências científicas e não na cultura institucional do atraso e do preconceito. Este é também o caminho para que tenhamos polícias comunitárias acostumadas ao controle social e aos processos de prestação de contas e responsabilização pública (accountability).
Para que a existência de várias polícias com ciclo completo não seja redundante e não implique novas disputas, deve-se optar por um dos seguintes caminhos: ou se estabelece uma base distrital para cada polícia (modelo britânico) ou definimos responsabilidades distintas para as polícias de acordo com tipos criminais (o que caracteriza, em grande parte, a experiência americana). Tendo presente a história centenária das polícias militares e civis no Brasil, seria de todo desaconselhável que elas fossem reorganizadas para atuar a partir de bases distritais exclusivas. O mais adequado seria a divisão de vocações por tipos penais. Assim, por exemplo, as Polícias Civis poderiam tratar de crimes contra a vida, sequestros, crimes sexuais, tráfico de drogas e crimes do “colarinho branco”, enquanto as Polícias Militares poderiam cuidar dos delitos patrimoniais (furtos e roubos) e da manutenção da paz pública. Em um sistema do tipo, as Guardas Municipais poderiam responder aos conflitos de “baixa densidade” como arruaça, vandalismo, disputas entre vizinhos, importunação ao sossego, violência doméstica etc. Uma divisão do tipo tornaria possível que tivéssemos um sistema de segurança pública no Brasil, encerrando a pré-história das polícias brasileiras.
Reformas desta natureza exigem, por óbvio, um amplo esforço político, vez que nosso modelo de polícia foi, inacreditavelmente, inserido na Constituição Federal, notadamente em seu art. 144. Tendo em conta a destacada inaptidão do Congresso Nacional para reformar o que quer que seja e o notório desinteresse do governo federal sobre este tema, deve-se reconhecer que as perspectivas não são alentadoras. Os governadores poderiam constituir esta agenda. Afinal, é nos Estados que a crise se instala e – observados princípios gerais – se deveria permitir margem de autonomia aos entes da federação para que pudessem reformar e/ou instituir suas próprias polícias. Seja como for, nunca a crise do modelo de polícia no Brasil foi tão evidente. O que não nos garante qualquer solução. Afinal, convivemos com uma realidade política na qual tem sido preferível não pensar, não discutir e não fazer. Só por isso, as greves e protestos dos policiais têm um sentido histórico. Em seus acertos e em seus erros, as mobilizações introduziram um dado novo: os policiais exigem mudanças. Resta saber se alguém saberá interpretar este sentimento.
Marcos Rolim é Professor da cátedra de Direitos Humanos do IPA, autor de “A Síndrome da Rainha Vermelha” (Zahar/Oxford University, 2006)
Fonte: Zero Hora
Saiba mais: http://www.fenapef.org.br/fenapef/noticia/index/37071